
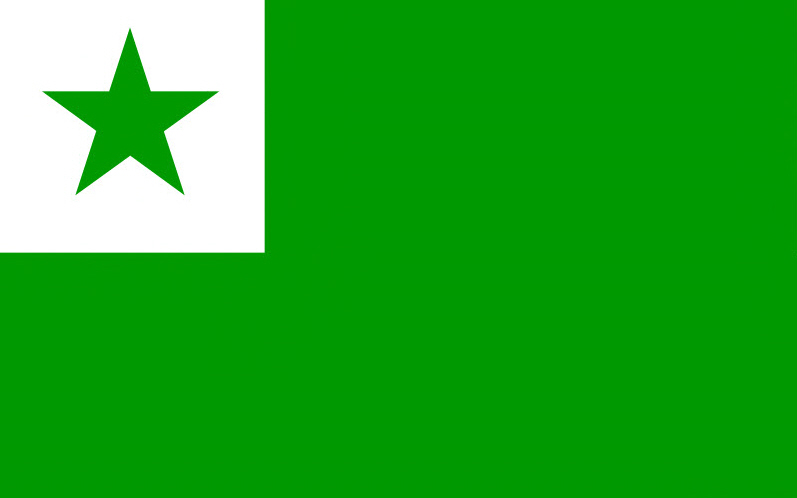

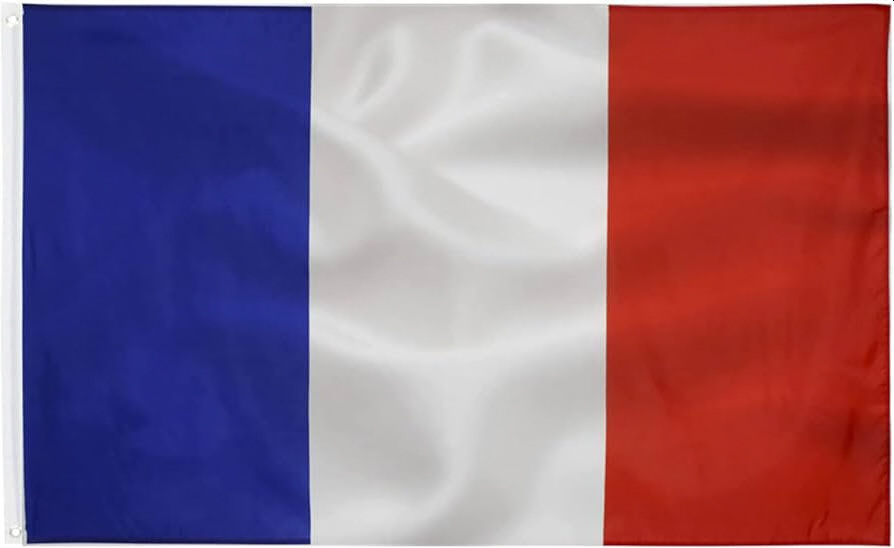



 | 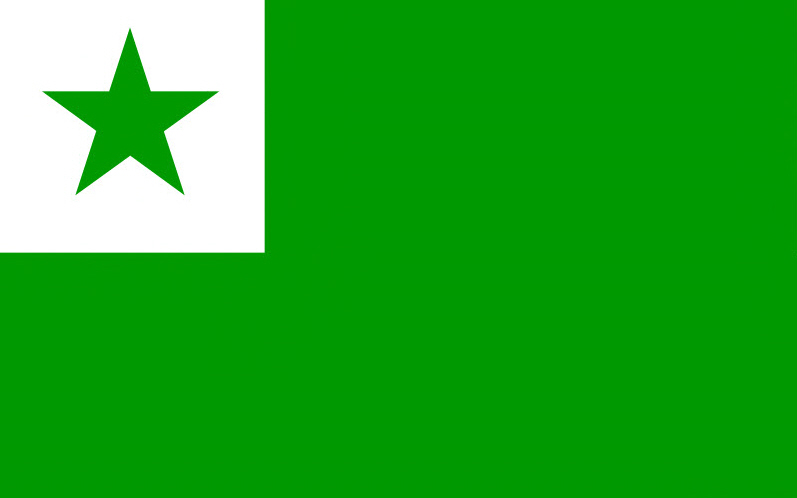

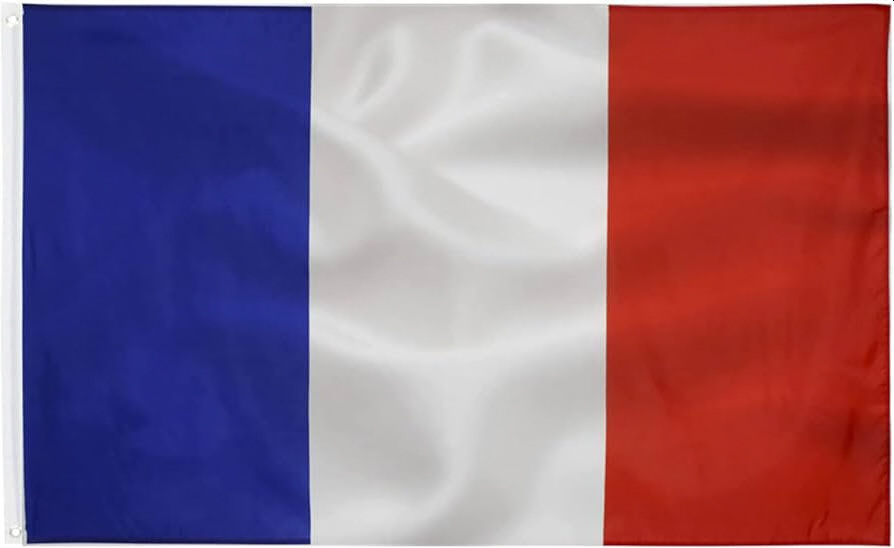



|
Sessenta anos após o Concílio Vaticano II, é essencial revisar criticamente as estruturas internas da Igreja Católica — não apenas a partir de uma perspectiva eclesiológica ou teológica, mas também a partir de uma pergunta fundamental que muitas vezes foi silenciada: por que o poder e a autoridade na Igreja permanecem concentrados em uma elite clerical, sem participação efetiva do povo cristão, que, em teoria, é seu sujeito constitutivo?
Apesar das mudanças significativas propostas pelo Concílio, a estrutura hierárquica da Igreja permanece praticamente inalterada. Para compreender as razões dessa resistência à mudança, é preciso aprofundar-se na diferença entre “estrutura” e “organização”. Estrutura refere-se aos elementos essenciais que garantem a coesão e a continuidade da Igreja ao longo da história. No discurso eclesial dominante, essa estrutura é identificada com a hierarquia — ou seja, o corpo episcopal entendido como sucessor do colégio apostólico. Essa hierarquia, segundo seus defensores, garante a autoridade doutrinal, pastoral e institucional. No entanto, essa “continuidade” é realmente sinônimo de fidelidade ao Evangelho, ou é, antes, preservação de privilégios?
A “organização”, por sua vez, refere-se a como essa estrutura é implementada em diferentes contextos históricos. A Igreja demonstrou grande flexibilidade organizacional ao longo dos séculos, mas preservou seu núcleo hierárquico inalterado. O que nunca foi colocado em questão por aqueles que detêm o poder eclesial é justamente essa estrutura que permite o controle sem prestar contas ao povo crente. Podemos realmente falar de uma comunidade conduzida pelo Espírito quando as decisões são tomadas de cima para baixo, sem a participação daqueles que são, ao mesmo tempo, destinatários e portadores da fé?
Durante o primeiro milênio, os bispos eram escolhidos por suas comunidades e exerciam seu ministério nas igrejas locais, de maneira mais alinhada com dinâmicas comunitárias. No entanto, a partir do século XI, o poder do Papa começou a se centralizar, transformando profundamente a organização da Igreja. Embora a mesma estrutura hierárquica formal tenha sido mantida, o eixo do poder deslocou-se para uma verticalidade extrema, com Roma como centro hegemônico. Por que se aceitou sem questionar que essa centralização refletia a vontade divina, e não estratégias humanas de poder?
A questão central não é apenas como essa organização funciona, mas como a estrutura da Igreja é concebida. Quando ela serve aos interesses do centro — o Papa e a Cúria Romana — revela que esse centro tem o poder não apenas de definir a organização, mas também de legitimá-la por meio de narrativas teológicas. Isso levanta uma pergunta incômoda: a estrutura eclesial tem uma base sacramental ou jurídica?
Segundo os documentos do Vaticano II, o episcopado tem uma base sacramental. Contudo, na prática, muitas das funções de um bispo parecem ser regidas mais por critérios legais do que espirituais. O que significa para a Igreja proclamar uma teologia sacramental do episcopado se o exercício do ministério depende da aprovação papal? O povo cristão — supostamente participante da comunhão sacramental — é sistematicamente excluído desse debate. Assim, o sacramento torna-se uma justificação simbólica para uma estrutura de poder que não permite alternativas nem vozes dissidentes.
Nas primeiras comunidades cristãs, havia líderes que poderiam ser vistos como uma forma incipiente de episcopado. No entanto, nos escritos do Novo Testamento, não há uma diferenciação clara entre bispos e presbíteros. Somente no final do século II é que os bispos começaram a ser reconhecidos como sucessores dos apóstolos. Durante vários séculos, esse papel episcopal coexistiu com uma teologia ainda indefinida. Na verdade, até hoje, a teologia do episcopado permanece um campo ambíguo, carecendo de um desenvolvimento sistemático que justifique o modelo atual de supremacia papal e submissão episcopal.
A partir do século XII, iniciou-se a reflexão teológica sobre o sacramento da Ordem, mas ela foi centrada no sacerdócio, e não no episcopado. Isso levou a uma visão do bispo como um sacerdote com jurisdição sobre os outros — subordinado a um sistema jurídico, e não inserido em uma comunhão sacramental. Consolidou-se, assim, um modelo piramidal: o Papa como bispo supremo com autoridade jurídica sobre todo o episcopado, o clero e, claro, os fiéis. Essa interpretação foi teologicamente apoiada por figuras como Tomás de Aquino e Alberto Magno, mas suas raízes ideológicas estão nas reformas do Papa Gregório VII e seus colaboradores, que utilizaram documentos forjados atribuídos ao Édito de Milão para legitimar a supremacia papal.
A atual estrutura centralista da Igreja repousa em parte sobre essas bases manipuladas. Apesar de terem sido desmascaradas como falsificações, essas fontes continuaram a ser usadas para afirmar que “todo poder na Igreja vem do Papa”. Como pode a autoridade espiritual ser sustentada sobre uma base historicamente fraudulenta e politicamente motivada? E por que o povo cristão é privado do direito de questionar essas contradições?
O Concílio Vaticano II não resolveu essa ambiguidade — apenas a expôs. Em Lumen Gentium 21.3, afirma-se que o episcopado confere a plenitude da ordem sacerdotal, mas acrescenta-se que só pode ser exercido em comunhão com o Papa. O artigo 22.3 insiste ainda que as ações dos bispos requerem o consentimento papal. Se o episcopado tem uma base sacramental autônoma, por que seu exercício é subordinado à autoridade papal? Na prática, a estrutura da Igreja não reflete comunhão, mas obediência hierárquica e controle jurídico.
Essa contradição entre o discurso sacramental e a realidade jurídica explica muitas das tensões internas da Igreja. Embora o Concílio tenha definido a Igreja como um sacramento de comunhão, a realidade é que ela funciona como uma estrutura legal sustentada por decretos, normas e códigos. Essa lógica vertical se reproduz em cada diocese, onde o bispo atua como uma espécie de vice-rei do Papa, e os leigos são relegados à obediência sem participação real.
Não é coincidência que o Capítulo III da Constituição Dogmática Lumen Gentium fale da Igreja não como o Povo de Deus, mas como uma “sociedade hierarquicamente estruturada”. Por que essa dualidade? Teriam essas seções sido escritas por facções opostas dentro do Concílio? A realidade é que muitos documentos conciliares foram fruto de tensões e compromissos entre posições conflitantes dentro do episcopado, o que explica por que contêm afirmações contraditórias. Por isso, não devem ser idealizados como uma síntese harmoniosa, mas lidos como um retrato de uma luta de poder não resolvida dentro da Igreja.
As perguntas fundamentais permanecem sem resposta: quem detém o poder supremo na Igreja? De onde ele provém? Qual é o verdadeiro papel do episcopado? Por que o povo cristão é sistematicamente excluído desses debates? A história dos concílios mostra que, longe de esclarecer essas questões, muitas vezes as tornaram ainda mais complexas.
Os Concílios de Constança e Basileia, por exemplo, afirmaram que um concílio geral tinha autoridade sobre o Papa. No entanto, essa posição foi revertida pelo Concílio de Florença, que voltou a proclamar a supremacia papal. Desde então, os concílios subsequentes — Latrão V, Trento, Vaticano I — não buscaram responder aos desafios do mundo moderno, mas proteger um modelo de poder que já dava sinais de esgotamento. Paradoxalmente, essa postura defensiva foi uma reação contra uma sociedade cristã que a própria Igreja ajudou a moldar, mas que agora evoluía além de seu controle.
O Concílio Vaticano II tentou uma virada, buscando o diálogo com a modernidade. Mas seu espírito de renovação não se refletiu na estrutura institucional. A autoridade papal e curial permaneceu intacta, enquanto o povo cristão continuou excluído. Em uma época em que o mundo exige participação, transparência e horizontalidade, a Igreja permanece ancorada em um modelo hierárquico rígido, vertical e excludente.
Esse descompasso entre discurso e prática, entre proclamações sacramentais e práticas autoritárias, é insustentável. É urgente uma revisão profunda do modelo eclesial — não para destruí-lo, mas para torná-lo coerente com o Evangelho que proclama e com a comunidade que afirma servir.