
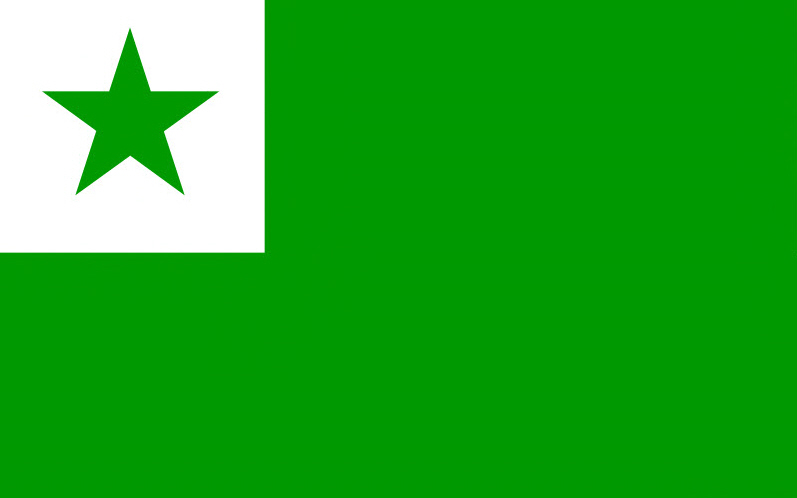

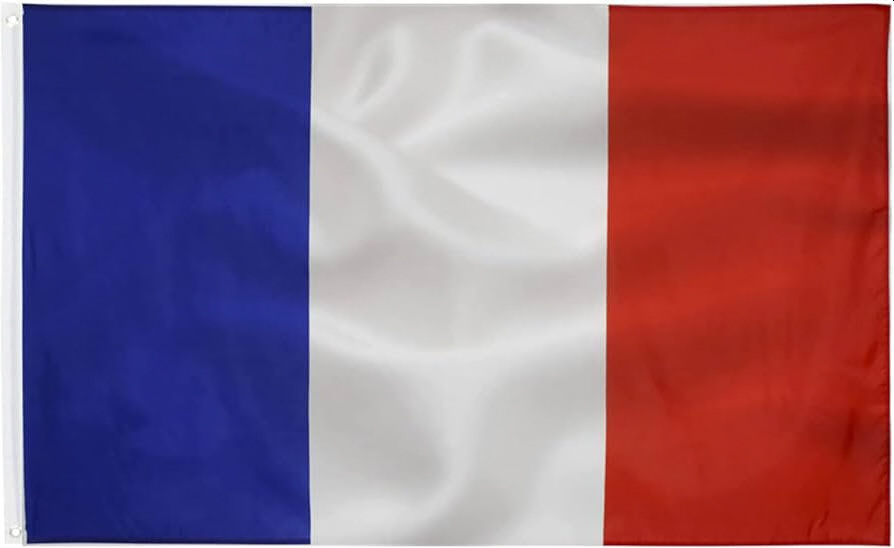





 | 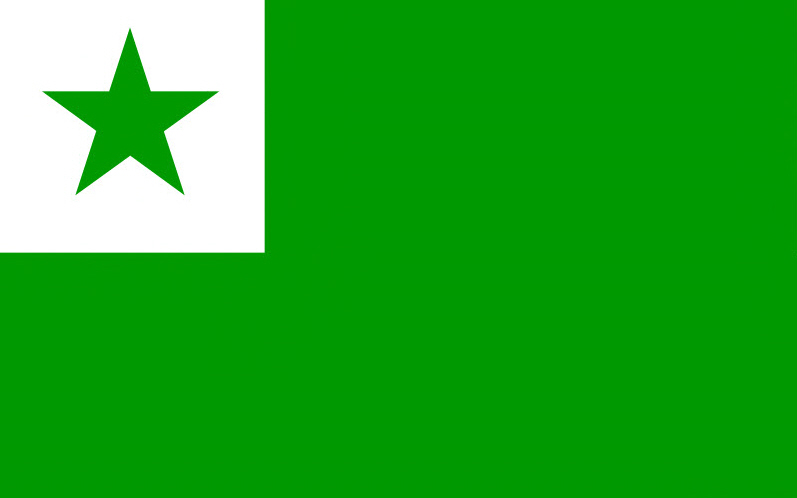

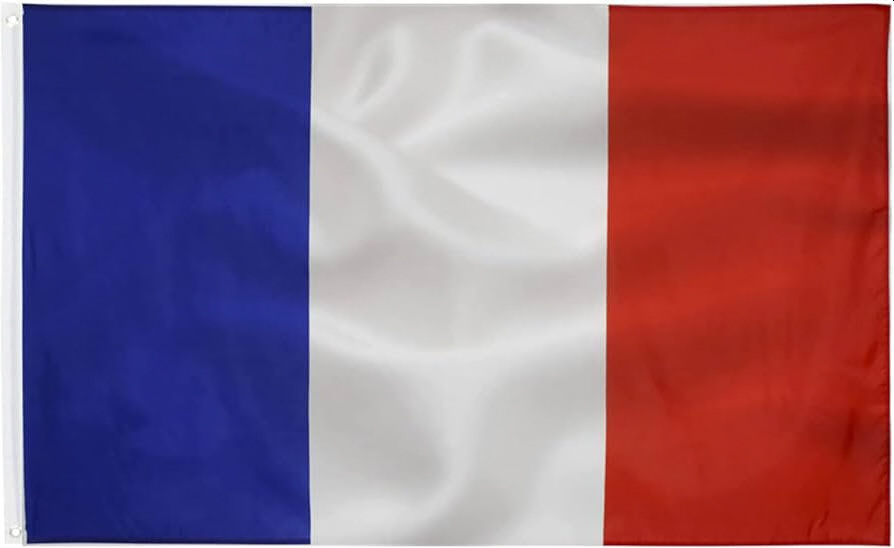





|
A frase que dá título a este texto vem do Livro do Gênesis, capítulo 4, versículo 10. É a pergunta que Deus faz a Caim após o assassinato de seu irmão Abel: um fratricídio primordial que inaugura o drama da violência humana na narrativa bíblica. O sangue derramado não desaparece em silêncio; ele se torna um clamor, uma voz que se eleva da própria terra, exigindo justiça.
Essa pergunta: "O que fizeste?" poderia hoje ser dirigida a muitos governos, exércitos e líderes mundiais. O versículo, originalmente escrito em hebraico antigo, bem poderia aparecer em árabe, russo, ucraniano, amárico, pashto ou tigrínia. Em todas as línguas dos povos que hoje sofrem os horrores da guerra, o sangue ainda fala. Porque, na maioria dos conflitos atuais, são irmãos que se enfrentam, que se matam, que se desumanizam mutuamente.
O conflito na Ucrânia, desencadeado pela invasão russa em fevereiro de 2022, mergulhou o continente europeu em sua pior confrontação armada desde a Segunda Guerra Mundial. Milhões foram deslocados, dezenas de milhares morreram e a devastação atingiu tanto cidades quanto almas. Nesta guerra, como em tantas outras, as principais vítimas são civis: crianças, idosos, mulheres — pessoas que nunca empunharam armas, mas que sofrem o peso de decisões tomadas longe de seus lares.
No Oriente Médio, a violência cíclica entre Israel e Palestina atingiu um novo e trágico ápice após o ataque realizado pelo HAMAS em 7 de outubro de 2023. Mais de 1.200 pessoas morreram naquele dia em Israel, muitas delas civis, num ato de barbárie amplamente condenado pela comunidade internacional. A resposta israelense, no entanto, provocou uma catástrofe humanitária em Gaza, com dezenas de milhares de mortes, a maioria também de civis, segundo relatórios da ONU, Médicos Sem Fronteiras e outras organizações independentes. A escala da devastação levanta questões urgentes sobre proporcionalidade, direito internacional e a ética de uma guerra que parece caminhar para uma anexação de fato e o deslocamento forçado de toda uma população.
Por trás desse conflito há um paradoxo amargo: o povo judeu, que durante séculos sustentou a esperança messiânica do retorno das tribos perdidas de Israel, não foi capaz de reconhecer o povo palestino como possíveis irmãos. Mesmo que a conexão genealógica não fosse verdadeira — um ponto debatido e amplamente irrelevante —, o que é verdadeiro é o pertencimento comum à mesma terra, a uma história compartilhada e a um destino entrelaçado. Para além da religião, da língua ou da etnia, o que deveria nos unir é nossa humanidade comum. A dor não distingue linhagem ou credo.
A tradição judaica ensina que ser o povo escolhido implica uma escolha moral: não dominar, mas servir; não impor, mas ser exemplo de justiça, de compaixão, de memória viva diante do sofrimento. Essa escolha, para ter significado hoje, não pode estar atrelada apenas ao poder militar ou ao sucesso econômico ou tecnológico. Ela deve ser medida pela capacidade de evitar o sofrimento alheio, de abrir caminhos para a convivência, de assumir a memória do Holocausto como uma responsabilidade ética universal — e não como justificativa para novas formas de opressão.
Não se trata aqui de oferecer uma solução definitiva para o conflito — seja ela um Estado binacional e multicultural ou dois Estados convivendo em paz —, mas sim de afirmar que tanto israelenses quanto palestinos têm o mesmo direito de viver com dignidade, segurança e justiça. A terra não pode continuar sendo cemitério e trincheira: deve também poder ser lar.
O mesmo pode ser dito da Ucrânia, como do Sudão, do Iêmen, da Etiópia, do Afeganistão ou de Mianmar. Em cada uma dessas zonas de guerra, os recursos investidos em armas poderiam ter sido usados para hospitais, escolas, estradas, cultura, reconciliação. O preço de não o fazer mede-se em covas, em crianças sem pais, em gerações que crescerão sem jamais conhecer a paz.
Este texto não busca justificar nenhuma forma de antissemitismo, antijudaísmo, russofobia ou islamofobia. Os ataques perpetrados pelo HAMAS — especialmente os de 7 de outubro de 2023 — devem ser condenados clara e inequivocamente, assim como as represálias desproporcionais do Estado de Israel que destroem bairros inteiros e punem coletivamente uma população já empobrecida e sitiada há décadas.
O mundo não deve se acostumar a ver a guerra como um destino inevitável. A paz não é uma utopia se se torna uma vontade coletiva. Mas, para isso, é preciso começar reconhecendo o outro como irmão. Só por meio do respeito mútuo, da justiça equitativa e da memória viva é possível construir uma convivência duradoura.
Enquanto o sangue inocente continuar clamando da terra, não haverá silêncio profundo o bastante para calá-lo. A humanidade, como um todo, é chamada a responder à pergunta que ecoa desde Caim até hoje: O que fizeste?
