
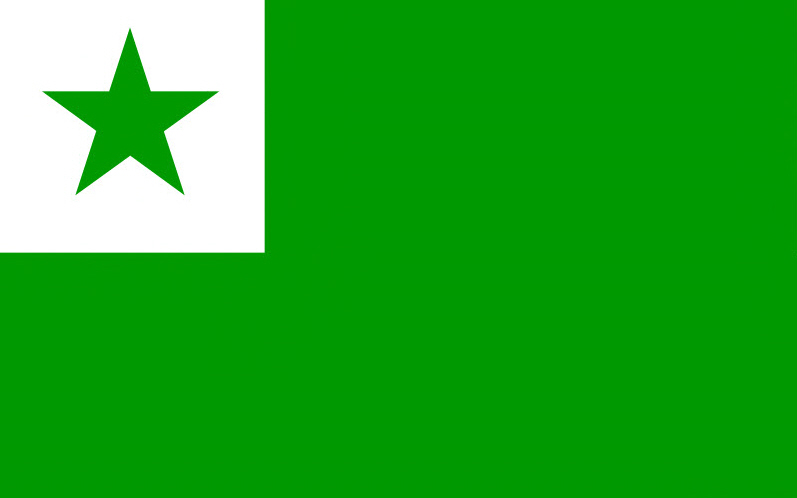

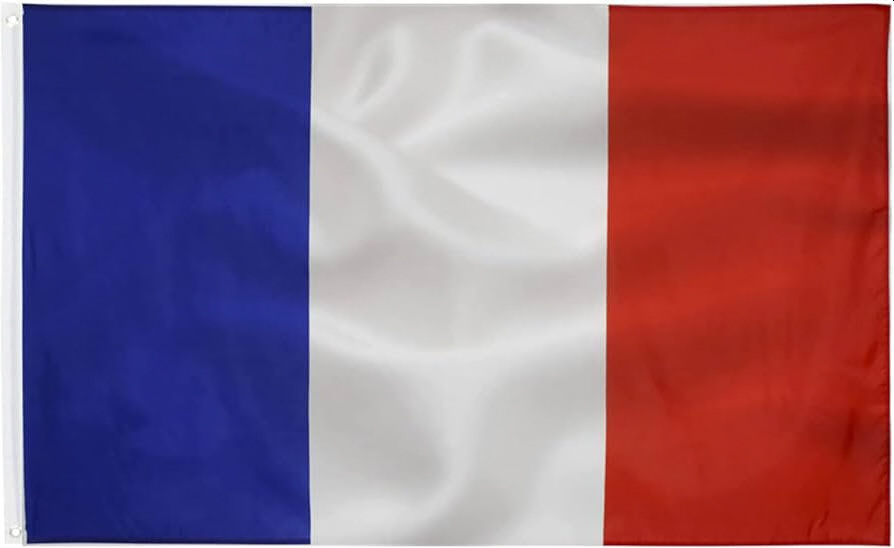






 | 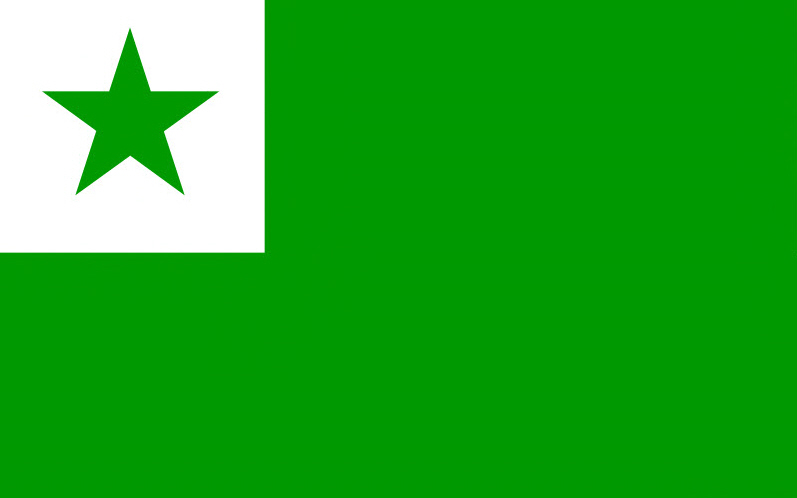

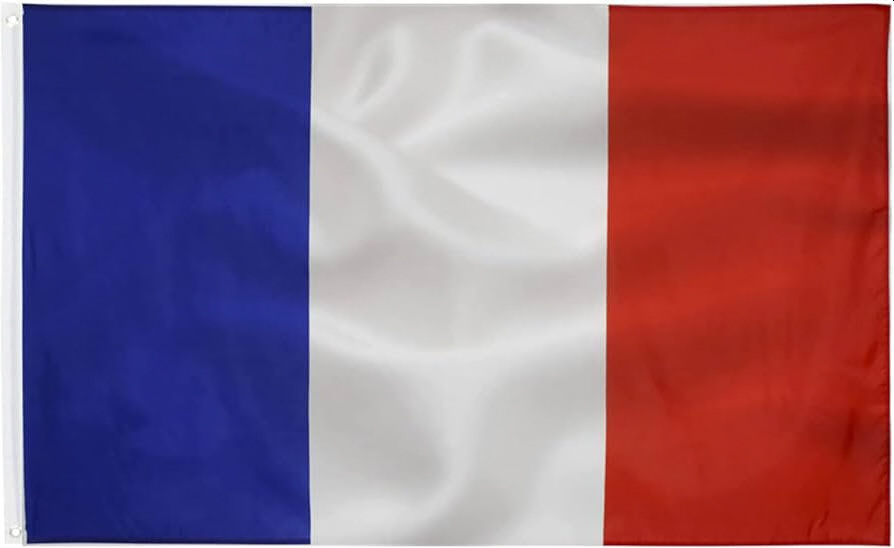






|
Hoje, um cristão que escolhe viver o Evangelho com seriedade pode parecer uma figura incômoda, até mesmo suspeita. Seu compromisso com os ensinamentos de Jesus — a não violência, a justiça, o cuidado com os pobres e a rejeição do poder e do consumismo — frequentemente provoca desconforto, inclusive dentro da própria Igreja. Essa pessoa é vista como estranha, como um idealista fora de lugar ou, pior, como uma ameaça.
Essa reação não é aleatória. Tem raízes profundas na história do cristianismo, que começou como um movimento perseguido e acabou se tornando uma instituição poderosa. Ao longo do caminho, a mensagem revolucionária de Jesus perdeu força. Aquele Jesus pobre, amigo dos marginalizados e crítico do poder religioso, foi substituído por uma figura mais confortável e decorativa.
Hoje, aqueles que desejam viver o Evangelho com integridade — escolhendo os pobres, rejeitando o luxo, buscando a justiça — enfrentam resistência não apenas do mundo, mas também dentro da Igreja. Viver como Jesus e pedir que a Igreja se pareça com Ele é uma ameaça para quem prefere uma fé confortável, adaptada ao sistema. O cristianismo autêntico não é dócil nem conformista: é crítico, profético e incômodo. O Evangelho não é uma teoria para livros; é um convite à transformação da vida. No início, a fé cristã nasceu entre pessoas simples que partilhavam o que tinham, rezavam juntas e viviam com esperança. Não havia templos nem hierarquias. O que importava não eram dogmas, mas o amor, a justiça e a comunidade.
Com o tempo, porém, a fé tornou-se cada vez mais intelectual. Aquilo que era um modo de viver transformou-se em discursos abstratos e em uma série de dogmas bizantinos. Debates acalorados se travavam sobre a natureza de Deus, enquanto o sofrimento humano real era esquecido. O Evangelho, que deveria levar ao compromisso, distanciou-se da vida e ficou preso em doutrinas que não transformavam nada. A teologia deixou de ser uma voz próxima do povo e virou um exercício que já não incomodava ninguém.
Retornar ao Evangelho é voltar ao essencial: escutar os pobres, partilhar a vida, perdoar e sonhar com um mundo novo. A Encarnação não é apenas uma crença: é Deus se fazendo parte da humanidade e de sua fragilidade. Em Jesus, Deus se revela no pequeno e no cotidiano. Ele não domina — Ele acompanha. E isso destrói todas as estruturas de poder.
Podemos entender melhor essa contradição observando as forças que moldaram a história da Igreja: o poder e a riqueza. A partir do Édito de Milão, no século IV, a Igreja deixou de ser uma comunidade de base perseguida e passou a ser uma estrutura privilegiada, com influência política e econômica no Império Romano. A partir desse momento, o impulso de controlar, acumular riquezas, estabelecer hierarquias e ditar normas a partir de uma posição de superioridade começou a distanciar a instituição do estilo de vida que Jesus pregou e viveu. A dimensão revolucionária do cristianismo foi absorvida por uma instituição que, desde o século IV, passou a se entrelaçar com o poder político e econômico. A mudança decisiva ocorreu por volta do ano 370, quando os ricos e poderosos entraram em massa na Igreja. Isso introduziu uma lógica estranha ao Evangelho. As elites, formadas na retórica e na administração imperial, assumiram papéis eclesiásticos e reorganizaram a comunidade com estruturas hierárquicas. Assim, o cristianismo deixou de ser uma fé marginal para tornar-se uma instituição socialmente influente, centrada na ortodoxia.
O que antes era uma boa notícia para os pobres foi adaptado aos interesses dos poderosos. Essa lógica persiste até hoje. O problema não é apenas histórico: as estruturas atuais da Igreja muitas vezes ainda refletem esse modelo.
A comunidade cristã, que deveria ser um espaço de serviço, tornou-se uma autoridade sobre a vida das pessoas. Com essa transformação, vieram decisões que pouco tinham a ver com o Evangelho: a escravidão foi justificada, as mulheres foram excluídas, normas rígidas sobre sexualidade foram impostas. Construiu-se uma doutrina que mais excluía do que acolhia.
A riqueza e o poder tornaram-se critérios para o exercício da autoridade. A fidelidade à mensagem de Jesus — que chama ao serviço e à vida simples — foi substituída pela obediência institucional voltada ao controle. Aqueles que tentaram viver o Evangelho a partir das margens foram silenciados porque suas vidas revelavam a contradição entre o que a Igreja pregava e o que realmente praticava.
Retornar ao Evangelho é um chamado a uma mudança radical. Não se trata apenas de reformas ou da modernização da linguagem, mas de uma conversão profunda: escutar novamente a voz de Jesus, que chama desde baixo, desde os excluídos. Significa romper com estruturas que já não refletem a missão de construir o Reino de Deus na Terra e recuperar uma fé viva e comprometida.
Nesse contexto, o clero tomou decisões que perduraram até o século XX. A partir do século VIII, por exemplo, as orações da Missa — o Cânon — passaram a ser ditas em voz baixa e exclusivamente em latim, uma língua já não compreendida pelo povo. Também nesse período, os padres começaram a celebrar de costas para a assembleia. A prática das missas privadas se generalizou: celebrações em que um sacerdote oficiava sozinho, sem a presença dos fiéis ou mesmo de acólitos, frequentemente em pequenas capelas. Assim, a liturgia, que originalmente era uma experiência comunitária, tornou-se um ato reservado quase exclusivamente ao clero, enquanto os leigos foram reduzidos a um papel passivo e obediente.
Ao mesmo tempo, essas transformações litúrgicas deram origem a um sistema econômico que favorecia o clero. Nos primeiros séculos do cristianismo, os fiéis traziam ofertas ao altar, que eram então distribuídas conforme as necessidades da comunidade. Com a consolidação institucional do clero, essas ofertas foram substituídas por pagamentos em dinheiro que os leigos tinham de fazer pelas missas. Essa lógica de tarifas estendeu-se a outros sacramentos e ritos religiosos, como batismos, casamentos, crismas, funerais e festas de padroeiros.
Como resultado, surgiram práticas marcadas por grave opacidade moral. Um exemplo claro é o das chamadas “Missas Gregorianas”: uma série de 30 missas celebradas durante 30 dias consecutivos, com a promessa de acelerar a libertação da alma do purgatório. O custo dessas missas era significativamente maior que o de uma missa comum. Para compensar o preço mais baixo desta última, alguns padres começaram a celebrar várias missas em rápida sucessão. A isso se somou o ainda mais lucrativo e controverso negócio das indulgências, promovido pelo Papa Leão X para financiar a construção da Basílica de São Pedro em Roma.
As hierarquias eclesiásticas deixaram de se concentrar no serviço e na proximidade com o povo e passaram a ser ocupadas por quem encarnava os valores do poder: prestígio, política e influência. Em vez de seguir o Bom Pastor, muitos líderes atuaram como administradores preocupados em manter sua autoridade, relegando o Evangelho a um papel secundário. Um exemplo precoce foi a doutrina do Papa Gelásio I, em 494, que separou os âmbitos espiritual e temporal, marcando o início de uma tensão duradoura em que a Igreja também buscava dominar o temporal. Reivindicando autoridade divina, a Igreja quis exercer poder além da esfera religiosa, influenciando a política, a economia e a vida cotidiana. O papado tornou-se uma figura com poder tanto doutrinal quanto civil, rivalizando com impérios. Essa mistura do espiritual com o mundano gerou uma ambiguidade perigosa: a Igreja, chamada a encarnar o Reino de Deus, passou a agir como mais um reino, buscando controle. Afastou-se d’Aquele que se recusou a usar o poder para salvar a si mesmo e denunciou as estruturas religiosas opressoras. A fé deixou de ser vivida como uma experiência transformadora e passou a ser um sistema de regras. A salvação era prometida apenas aos obedientes. O Evangelho era lido, mas não vivido. Aquilo que deveria ser força de libertação tornou-se uma religião a serviço da ordem estabelecida. A relação com Jesus foi substituída pela submissão à hierarquia.
Durante a Idade Média, esse poder atingiu seu auge. O Papa já não era um entre outros, mas o líder supremo, com poder total. Ele ditava leis, julgava e governava. O Evangelho foi posto de lado por uma Igreja transformada em corte. A autoridade deixou de ser entendida como serviço e passou a ser controle. Um momento chave na centralização do poder eclesiástico foi o Dictatus Papae, de 1075, no qual Gregório VII reivindicou a supremacia do Papa sobre toda autoridade humana, até mesmo os imperadores. Não se tratava apenas de uma reforma institucional, mas de uma afirmação teológica que borrava os limites entre o espiritual e o temporal. Essa visão chegou ao extremo com a bula Unam Sanctam, de 1302, que exigia submissão ao Papa como condição para a salvação. Não era algo simbólico — era um ensinamento oficial que transformava o poder eclesiástico no mediador necessário entre Deus e a humanidade.
Em 8 de janeiro de 1454, o Papa Nicolau V tomou uma decisão que hoje parece incompreensivelmente injusta, embora à época estivesse alinhada com a teologia do poder desenvolvida desde Gregório VII. Convicto de sua “plenitude do poder apostólico”, o Papa concedeu ao rei de Portugal nada menos que todos os reinos da África. Essa “doação” incluía o direito de tomar todos os domínios, posses e bens, e de invadir, conquistar e escravizar os povos da África em caráter perpétuo. Essa concessão “generosa” e extravagante foi reafirmada por outros papas, como Leão X em 1516 e Paulo III em 1634. Assim, o “presente” da África a Portugal, fundamentado na teologia da plenitudo potestatis e respaldado por três papas, é um fato histórico inegável que revela o papel e a influência do papado no desenvolvimento do colonialismo.
A “generosidade” papal não se limitou a Portugal; estendeu-se à Espanha. É bem conhecido que o Papa Alexandre VI concedeu aos reis espanhóis as ilhas e terras descobertas ou por descobrir. Ele chegou a traçar uma linha imaginária 100 léguas a leste e ao sul dos Açores e de Cabo Verde para dividir os territórios das coroas espanhola e portuguesa. Em sua bula Inter Caetera, de 4 de maio de 1493, Alexandre VI reconheceu a presença de ouro, especiarias e muitas outras riquezas nas novas terras. O Papa, considerando-se autorizado “livremente, com ciência certa e por virtude do poder apostólico pleno”, concedeu aos Reis Católicos “pleno, livre e absoluto poder, autoridade e jurisdição” sobre esses territórios.
O cristianismo, em vez de libertar, foi usado para dominar. Para muitos povos, a cruz deixou de ser símbolo de esperança e tornou-se símbolo de subjugação. Culturas inteiras foram destruídas com o respaldo de uma teologia a serviço do poder. Essa história ainda não terminou. Mesmo hoje, existem discursos religiosos que justificam a exclusão e a desigualdade. A Igreja não foi apenas testemunha: foi protagonista de um sistema que usou a fé para oprimir. O mais grave é que muitos o fizeram conscientemente, com rituais, bênçãos e documentos papais. A teologia, em vez de ser profética, tornou-se um sedativo que justificava o poder. Consolava os ricos em vez de chamá-los à conversão. Assim, traiu o Evangelho, que não abençoa impérios. Para que a Igreja recupere credibilidade, é preciso enfrentar essa história com coragem. É necessário examinar as raízes que permitiram tamanha cegueira.
Hoje, o sistema de dominação — o capitalismo baseado na propriedade privada e no mercado — não recebe condenação nem questionamento por parte da hierarquia eclesiástica que ainda detém poder na Igreja. Durante a missa, a mensagem evangélica que desafia esse sistema é reduzida a uma breve leitura litúrgica, geralmente seguida por uma interpretação superficial e descomprometida, que não convida à transformação do mundo segundo a visão de Jesus. Os vínculos com a riqueza e o poder continuam a moldar a ação da Igreja, que muitas vezes orienta os fiéis para práticas devocionais e atos de culto voltados para a salvação eterna, sem promover mudanças concretas nas estruturas terrenas de injustiça.
O Evangelho autêntico continua vivo, não no poder, mas nas margens, entre aqueles que seguem Jesus com amor e sem buscar privilégios. Ele não veio para sustentar estruturas, mas para acender uma vida nova baseada na liberdade e no amor. Hoje, há uma urgência em voltar a Jesus — não ao institucionalizado, mas ao que caminha com os pobres e enfrenta a injustiça. A pergunta não é o que a Igreja quer, mas o que o mundo precisa: justiça, pão, ternura, verdade. Só encarnando essas palavras é que o cristianismo pode recuperar sua alma. Quem trilha esse caminho não está só: caminha com os feridos, com os que sonham e com o próprio Deus, que não se impõe de cima, mas se entrega a partir de baixo. Esse Evangelho não se prega — vive-se. E só assim o cristianismo pode ser salvo de si mesmo.
